CONTRATRANSFERÊNCIA
Conjunto
das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e, mais
particularmente, à transferência deste.
São
raríssimas as passagens em que Freud alude àquilo que chamou de
contratransferência. Vê nela o resultado da “influência do doente sobre os
sentimentos inconscientes do médico” e sublinha que “nenhum analista vai além
do que os seus próprios complexos e resistências internas lhe permitem”, o que
tem como corolário a necessidade de o analista se submeter a uma análise
pessoal.
Depois
de Freud, a contratransferência foi objeto de crescente atenção por parte dos
psicanalistas, especialmente na medida em que o tratamento era cada vez mais
compreendido e descrito como relação, e também em virtude da extensão da
psicanálise a novos campos (análise de crianças e de psicóticos) em que as
reações inconscientes do analista podem ser mais solicitadas. Vamos fixar
apenas dois pontos:
1º
Do ponto de vista da delimitação do conceito, encontram-se largas variações
pois certos autores entendem por contratransferência tudo o que, da
personalidade do analista, pode intervir no tratamento, e outros limitam a
contratransferência aos processos inconscientes que a transferência do
analisando provoca no analista. (...)
2º
Do ponto de vista técnico, podemos esquematicamente distinguir três
orientações:
a)
reduzir o mais possível as manifestações contratransferenciais pela análise
pessoal, de modo que a situação analítica seja estruturada, por assim dizer,
como uma superfície projetiva, apenas pela transferência do paciente;
b)
utilizar, controlando-as, as manifestações de contratransferência no trabalho
analítico, na sequência da indicação de Freud segundo a qual “... todos possuem
no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as
expressões do inconsciente dos outros”;
c)
guiar-se, mesmo para a interpretação, pelas suas próprias reações
contratransferenciais, muitas vezes assimiladas, nesta perspectiva, às emoções
sentidas. Essa atitude postula que a ressonância “de inconsciente a
inconsciente” constitui a única comunicação autenticamente psicanalítica.
LAPLANCHE e
PONTALIS. Vocabulário de psicanálise. Verbete:
Contratransferência. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
p. 102 e 103.
Freud foi o primeiro autor a utilizar essa expressão, em
1911, num congresso de psicanálise realizado em Nüremberg, porém conceituou-a
como um fenômeno que atrapalharia a análise e afirmou que estes sentimentos,
provindos de um analista, seriam uma prova de que ele estaria necessitado de
mais análise.
Talvez por essa razão, salvo raras exceções esporádicas, o
fenômeno contratransferencial durante quatro décadas não aparecia manifesto nos
trabalhos dos analistas. Uma dessas exceções foi o corajoso texto de Winnicott,
intitulado O ódio na contratransferência, onde ele encara com
naturalidade a emergência desse sentimento no analista diante de certos
pacientes extremamente agressivos.
Alguns poucos anos após, por volta de 1950, trabalhando
separadamente, tanto P. Heimann, na Inglaterra, como Racker, na Argentina,
trouxeram a valiosíssima contribuição à possibilidade de o sentimento
contratransferencial constituir um excelente instrumento de empatia do analista
com o que se passa no mundo interno do paciente.
Uma polêmica entre autores psicanalíticos gira em torno da
questão da contratransferência: deve ficar restrita unicamente à reação do
analista frente ao que o paciente mobiliza nos seus núcleos inconscientes, ou
toda resposta emocional do analista, durante a situação analítica, deve ser
considerada como um processo transferencial
Alguns aspectos merecem ser destacados:
1.
Existe o risco de se confundir o que é contratransferência com o que não é mais
do que uma transferência do próprio analista.
2.
O sentimento contratransferencial pode adquirir uma dimensão patogênica, com o
analista perdido e envolvido na situação criado, ou pode ser uma excelente
bússola empática.
3.
É importante que o analista possa conviver com naturalidade com os seus
sentimentos contratransferenciais dificílimos (por exemplo, de medo, tédio,
paralisia, impotência, erotização, raiva etc.), sem sentir vergonha e culpas,
de modo a poder assumir e refletir sobre o que eles representam no vínculo.
4.
Assim, pode-se dizer que a contratransferência apresenta uma perspectiva
tríplice: como um possível obstáculo, como instrumento e como integrante
do campo analítico.
ZIMERMAN, David E. Vocabulário
contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 87.
Conjunto
das manifestações do inconsciente do analista relacionadas com as da
transferência de seu paciente.
Mais
ainda do que o conceito de transferência, ao qual está ligada, a ideia de
contratransferência, suas acepções e as utilizações que dela foram feitas
sempre suscitaram polêmicas entre os diversos ramos do movimento psicanalítico.
Foi
numa carta a Sigmund Freud, datada de 22 de novembro de 1908, que Sandor
Ferenczi mencionou pela primeira vez a existência de uma reação do analista aos
ditos de seu paciente: “Tenho demasiada tendência a considerar os assuntos dos
doentes como meus.” Freud utilizou o termo contratransferência pela primeira
vez, entre aspas, numa carta a Carl Gustav Jung datada de 7 de junho de 1909.
Foi em 1910, todavia, em sua avaliação das perspectivas de futuro da terapia
psicanalítica, que ele evocou, falando da pessoa do terapeuta, a existência da
contratransferência, que “se instala no médico através da influência do
paciente na sensibilidade inconsciente do médico”. Estava próximo o momento,
acrescentou Freud, em que seria lícito “formularmos a exigência de que o médico
reconheça e domine obrigatoriamente em si essa contratransferência”. Sabendo
que nenhum analista pode ir além do que lhe permitem suas resistências
internas, “pleiteamos, por conseguinte,” prosseguiu Freud, “[que o analista]
comece sua atividade pela autoanálise e a aprofunde continuamente, à medida que
se derem suas experiências com o doente”.
Em
1913, numa carta a Ludwig Binswanger, Freud sublinhou que o problema da
contratransferência “é um dos mais difíceis da técnica psicanalítica”. O
analista - e isso devia ser uma regra, segundo Freud - nunca deve dar ao
analisando nada que tenha saído de seu próprio inconsciente. Vez após outra,
ele deve “reconhecer e ultrapassar sua contratransferência, para que possa
estar livre”. Alguns anos depois, Freud notou que, no tratamento, o surgimento
de um fenômeno a que ele deu o nome de amor transferencial devia dar ensejo ao
analista de “desconfiar, talvez, de uma possível contratransferência”.
A
posição de Freud não continuaria a evoluir após essas colocações que se
tornaram clássicas, e ele jamais considerou que a contratransferência pudesse
ser utilizada de maneira dinâmica no desenrolar do tratamento.
O
ponto de vista de Ferenczi, a princípio, seria calcado no de Freud. Ele
sublinharia a necessidade de um “domínio” do analista sobre sua
contratransferência. Este, a seu ver, só poderia resultar de uma análise e
deveria ser distinguido de uma simples resistência à contratransferência, por
sua vez passível de gerar uma rigidez artificial no analista.
Mais
tarde, dentro da ótica de seu retorno à teoria do trauma, que acarretaria um
afrouxamento de seus laços com Freud, Ferenczi rumou por um caminho
inteiramente diverso, efetuando um deslocamento na concepção da análise e
preconizando um emprego da contratransferência do analista.
Sensível
aos impasses de algumas análises, Ferenczi desenvolveu a ideia da análise
mútua, processo durante o qual o analista fornece ao paciente os elementos
constitutivos de sua contratransferência, à medida que eles vão surgindo, de
tal maneira que o paciente se liberta da opressão ligada à relação
transferencial e que o artificialismo da situação analítica clássica tende a
desaparecer.
Essa
orientação teria um belo futuro. Encontramos sua marca, de maneira explícita ou
não, nos métodos psicanalíticos ingleses (sobretudo em Donald Woods Winnicott e
Masud Khan) e no desenvolvimento da psicanálise norte americana (...). Depois
da Segunda Guerra Mundial, (...), o debate sobre a contratransferência passou
por seus momentos mais intensos, em especial sob o impulso de discípulos de
Melanie Klein, embora esta não dedicasse nenhuma elaboração teórica específica
a essa questão. Partindo da perspectiva kleiniana, que concebe a relação
analítica como uma dualidade inscrita na ordem do “aqui e agora”, as
intervenções de Paula Heimann e Margaret Little, em especial, por mais
distintas que fossem, redefiniram a contratransferência como o conjunto das
reações e sentimentos que o analista experimenta em relação a seu paciente.
Para Heimann, na medida em que o inconsciente do analista engloba o do
paciente, o psicanalista deve servir-se da contratransferência como um
instrumento facilitador da compreensão do inconsciente do analisando. Em
Heimann, essa concepção da contratransferência não deve levar a uma comunicação
dos sentimentos do analista ao paciente. Quanto a esse aspecto, sua abordagem
se distingue da ideia de “análise mútua” de Ferenczi. Margaret Little, ao
contrário, rejeita qualquer ideia de distância, já que, a seu ver, analista e
analisando são inseparáveis, devendo o analista comunicar ao paciente os
elementos de sua contratransferência.
ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário
de psicanálise. Verbete: Contratransferência. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
p. 133 e 134.
Melanie Klein utilizará muito pouco o termo
“contratransferência”, mas pode-se afirmar que toda a sua técnica está baseada
nesse conceito, ainda que não tenha julgado útil defini-lo. Foi sua aluna Paula
Heimann a primeira, quando do Congresso da A.P.I de Zurique (1949), a fazer da
contratransferência uma verdadeira ferramenta a serviço da percepção de certos
aspectos da comunicação do paciente: “Sustento a tese”, disse ela, “de que a
resposta emocional do analista ao seu paciente no interior da situação analítica
constitui a sua mais importante ferramenta de trabalho. A contratransferência
do analista é um instrumento de investigação no interior do inconsciente do
paciente”. Esse conceito será logo objeto de uma atenção crescente, sobretudo
por causa do desenvolvimento das pesquisas sobre psicanálise de criança e sobre
as psicoses.
Sua definição continua sendo alvo de controvérsias na medida
em que ela é entendida seja como uma resposta rigorosa aos processos
inconscientes que a transferência do analisando induz no analista, seja como
uma resposta mais globalizante por parte da personalidade do analista, no
âmbito do tratamento. A sua utilização, no nível técnico, em função de sua
delimitação, irá esquematicamente em duas direções: uma posição defensiva do
analista, que deve ter cuidado de se manter o mais possível como uma superfície
projetiva, um espelho, para a transferência do paciente, e uma posição em que a
personalidade do analista e, em especial, suas emoções, estão envolvidas na
dinâmica transfero-contratransferencial em virtude de uma concepção mais
tridimensional. Trata-se então, para o analista, de elaborar a vivência
contratransferencial de modo a fazer a triagem entre as projeções do paciente e
seus objetos internos, a fim de ver surgir a significação comum que pode servir
de guia para interpretação.
Esse conceito evolui entre dois riscos. Um deles é a
psicologização da relação analítica na medida em que ela pode ser considerada
mais em termos de interações pessoais do que em termos de repetição
transferencial de roteiros e padrões inconscientes. O outro risco é o de
esquecer que, se a contratransferência pode ser um guia para a compreensão e o
melhor dos servidores, também pode ser o pior dos mestres.
MIJOLLA, Alain de. Dicionário
internacional de psicanálise. Vol. 1. Verbete Contratransferência. Rio
de Janeiro: Imago, 2005. p. 405 e 406.
CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR


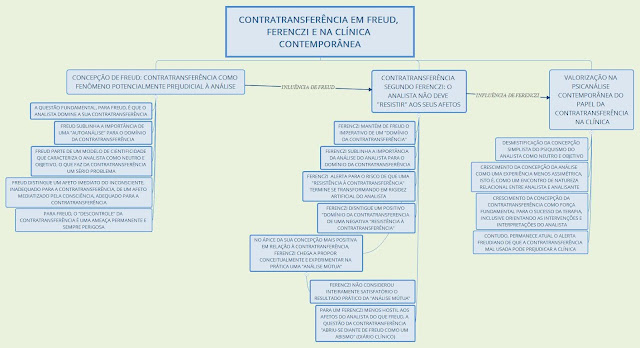
Nenhum comentário:
Postar um comentário