CONFLITO PSÍQUICO
Em
psicanálise, a noção de “conflito” designa essencialmente um conflito
intrapsíquico, onde se opõem forças antagônicas. A ideia é nele central: não é
exagerado dizer que, com a importância atribuída à sexualidade infantil e ao inconsciente,
toda a questão se resume a apurar no que consiste a estrutura do conflito;
pode-se acrescentar que Freud passou a vida a elaborar-lhe a teoria.
A bem dizer, os seus começos foram
prudentes. Ele ainda permanece próximo de uma psicologia da consciência quando,
no alvorecer da sua teoria do recalque, cita o surgimento, no doente dominado
pelo desejo, de “representações de contraste” e de “ideias inconciliáveis” tão
dolorosas que, produzindo um esforço de “contra-vontade”, ele “decide esquecer
a coisa”. Convém colocar desde já a ideia de um conflito fundamental entre o
desejo e o que se lhe opõe. Quando Freud admitiu sem reservas que, no
essencial, esse processo – o recalque – é inconsciente, é nessa base, tanto
quanto a respeito do papel da sexualidade como fonte de desejo, que ele se
separará de Josef Breuer e não cessará de opor-se a Pierre Janet.
Pode-se, daí em diante, acompanhar as
sucessivas etapas dessa formulação de uma teoria geral do conflito:
-
as psiconeuroses de defesa (histeria, neurose obsessiva, fobia) são atribuíveis
– seus próprios nomes o exprimem – ao conflito entre o desejo e os obstáculos à
sua satisfação;
-
a luta traduz-se por formações de compromisso onde o desejo é simultaneamente
barrado e descobre como se satisfazer sob formas disfarçadas: são os retornos
do recalcado, sob a forma de sintomas, sonhos, lapsos, atos falhos etc., e
todas as formações substitutivas social e moralmente aceitáveis, as quais
tampouco deixam de constituir uma satisfação oculta do desejo, oferecendo assim
uma saída para a energia acumulada;
-
é importante, por conseguinte, distinguir bem o conflito manifesto, tal como se
manifesta nas queixas do paciente e das pessoas que o cercam, na sintomatologia
etc., e o conflito latente, que só o trabalho psicanalítico pode elucidar;
-
a origem do conflito deve ser procurada sempre na psicossexualidade. É essa,
pelo menos, a posição vigorosamente afirmada por Freud na primeira parte de sua
obra. Entretanto, o status da agressividade é problemático e nunca
deixará de ser o espinho irritativo da teoria. Reaparecerá sem encontrar
solução satisfatória, com a sua segunda teoria das pulsões e a introdução do
“instinto de morte”, procurando o que pode estar “para além do princípio de
prazer”, através da reformulação das questões relativas ao sadismo e ao
masoquismo etc.; (...)
-
uma etapa importante situa-se por volta de 1910, em duas direções conjuntas,
quando Freud considera os conflitos entre os “dois princípios do funcionamento
psíquico”, o princípio de prazer e o princípio de realidade, e a oposição entre
investimentos narcísicos e investimentos objetais;
-
simultaneamente, a formação da teoria do complexo de Édipo (assim designado
explicitamente pela primeira vez em 1910, embora a ideia seja muito anterior)
traz para a luz os conflitos de identificações (fundamentalmente entre
identificações – paternas e identificações paternas); (...)
O conflito pode opor as próprias
pulsões entre si; é, numa primeira teoria freudiana, a oposição das pulsões
sexuais e de autoconservação; na segunda, a das pulsões de vida e de morte. (...)
Cumpre lembrar também as modalidades de conflito onde se opõem as diversas
instâncias do aparelho psíquico: o consciente e o inconsciente na primeira
tópica freudiana, o Isso, o Eu e o Supereu na segunda.
Sob todas essas modalidades, o conflito
é considerado em seu jogo intrapsíquico. É óbvio que não se pode esquecer a sua
articulação com os conflitos interpessoais e, mais além, com o problema dos
conflitos indivíduo/sociedade, várias vezes abordado pelo próprio Freud
(especialmente em Psicologia de grupo e análise do ego, 1921, e O mal-estar
na civilização, 1930).
MIJOLLA,
Alain de. Dicionário internacional da psicanálise. Vol. I – A-L. Rio de
Janeiro: Imago, 2005. Verbete Conflito. p. 385, 386 e 387.
Em psicanálise fala-se de conflito quando,
no sujeito, opõem-se exigências internas contrárias. O conflito pode ser
manifesto (entre um desejo e uma exigência moral, por exemplo, ou entre dois
sentimentos contraditórios) ou latente, podendo este exprimir-se de forma
deformada no conflito manifesto e traduzir-se particularmente pela formação de
sintomas, desordens do comportamento, perturbações do caráter etc. A
psicanálise considera o conflito como constitutivo do ser humano, e isto em
diversas perspectivas: conflito entre o desejo e a defesa, conflito entre os
diferentes sistemas ou instâncias, conflitos entre as pulsões, e por fim o
conflito edipiano, onde não apenas se defrontam desejos contrários, mas onde
estes enfrentam a interdição.
Desde as suas origens a psicanálise
encontrou o conflito psíquico, e logo foi levada a fazer dele a noção central
da teoria das neuroses. Estudos sobre a histeria (Studien über
Hysterie, 1895) mostra como Freud encontra no tratamento, à medida que se
vai aproximando das recordações patogênicas, uma crescente resistência -, essa
resistência não é em si mesma mais do que a expressão atual de uma defesa intrassubjetiva
contra representações que Freud designa como inconciliáveis (unvertrãglich).
A partir de 1895-96, essa atividade defensiva é reconheci da como o mecanismo
principal na etiologia da histeria, e generalizado às outras “psiconeuroses”,
então designadas por “psiconeuroses de defesa”. O sintoma neurótico é definido
como o produto de um compromisso entre dois grupos de representações que agem
como duas forças de sentido contrário, de maneira tão atual e imperiosa uma
como a outra: “... o processo aqui descrito - conflito, recalque, substituição
sob a modalidade de uma formação de compromisso - renova-se em todos os
sintomas psiconeuróticos”. De modo mais geral ainda, este processo reaparece
atuando em fenômenos como o sonho, o ato falho, a lembrança encobridora, etc.
Embora o conflito seja indiscutivelmente
um dado primordial da experiência psicanalítica, e seja relativamente fácil
descrevê-lo nas suas modalidades clínicas, é mais difícil apresentar a seu
respeito uma teoria metapsicológica. Ao longo de toda a obra freudiana, o
problema do fundamento último do conflito recebeu soluções diferentes. Conviria
começar notando que é possível explicar o conflito em dois níveis relativamente
distintos: ao nível tópico, como conflito entre sistemas ou instâncias, e ao
nível econômico-dinâmico, como conflito entre pulsões. Para Freud, este segundo
tipo de explicação é o mais radical, mas a articulação dos dois níveis é muitas
vezes difícil de estabelecer, pois uma determinada instância, parte envolvida
no conflito, não corresponde necessariamente a um tipo específico de pulsões.
Do ponto de vista tópico, no quadro da
primeira teoria metapsicológica, o conflito pode ser reconduzido
esquematicamente à oposição dos sistemas Ics (Inconsciente), por um lado, e
Pcs/Cs (Consciente), por outro, separados pela censura; esta oposição
corresponde igualmente à dualidade do princípio de prazer e do princípio de
realidade, em que o segundo procura garantir a sua superioridade sobre o
primeiro. Pode-se dizer que as duas forças em conflito são então para Freud a
sexualidade e uma instância recalcadora que compreende designadamente as
aspirações éticas e estéticas da personalidade, pois o motivo do recalque
reside em características específicas das representações sexuais que as
tomariam inconciliáveis com o “ego” e geradoras de desprazer para este.
Só bastante tarde Freud procurou um
suporte pulsional para a instância recalcadora. Supõe-se então que o dualismo
das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação (definidas como “pulsões
do ego”) seja o substrato do conflito psíquico. “... o pensamento psicanalítico
deve admitir que [certas] representações entraram em oposição com outras, mais
fortes do que elas, representações para as quais utilizamos o conceito
englobante de ‘ego’, que, conforme os casos, é composto de modo diferente; as
primeiras representações são por isso recalcadas. Mas de onde provirá esta
oposição, que provoca o recalcamento, entre o ego e certos grupos de
representações? [...] A nossa atenção foi atraída pela importância das pulsões
para a vida representativa; aprendemos que cada pulsão procura impor-se
animando as representações que estão em conformidade com as suas metas. Estas
pulsões nem sempre se conciliam; muitas vezes redundam em conflito de
interesses; as oposições das representações não são mais do que a expressão das
lutas entre as diferentes pulsões...”. No entanto, é evidente que, mesmo na
fase do pensamento freudiano em que existe uma coincidência entre a instância
defensiva do ego e um tipo determinado de pulsões, a oposição última
“fome-amor” só se exprime nas modalidades concretas do conflito através de uma
série de mediações muito difíceis de precisar.
Numa fase ulterior, a segunda tópica vem
fornecer um modelo da personalidade mais diversificado e mais próximo dessas
modalidades concretas: conflitos entre instâncias, conflitos interiores a
determinada instância, por exemplo entre os polos de identificação paterno e
materno, que podem ser encontrados no superego.
O novo dualismo pulsional invocado por
Freud, o das pulsões de vida e das pulsões de morte, parecia dever fornecer,
pela oposição radical que põe em jogo, um fundamento para a teoria do conflito.
Na realidade, estamos muito longe de encontrar tal sobreposição entre o plano
dos princípios últimos, Eros e pulsão de morte, e a dinâmica concreta do
conflito. Nem por isso a noção de conflito deixa de ser renovada:
1) Vemos cada vez melhor as forças
pulsionais animarem as diferentes instâncias (por exemplo, Freud descreve o
superego como sádico); mesmo que nenhuma delas se veja afetada por um único
tipo de pulsão.
2) As pulsões de vida parecem abranger a
maior parte das oposições conflituais precedentemente ressaltadas por Freud a
partir da clínica: “...a oposição entre pulsões de autoconservação e pulsões de
conservação da espécie, tal como a outra oposição entre amor do ego e amor
objetal, situa-se também no quadro do Eros.
3) Mais do que como um polo de conflito, a
pulsão de morte é, às vezes, interpretada por Freud como o próprio princípio de
combate, como o νεῖκος
(neikos, discórdia) que já Empédocles opunha ao amor (Philia, φιλία).
É assim que ele chega a especificar uma
“tendência para o conflito”, fator variável cuja intervenção faria com que a
bissexualidade própria do ser humano se transformasse em certos casos num
conflito entre exigências rigorosamente inconciliáveis, ao passo que na
ausência desse fator nada deveria impedir as tendências homossexuais e
heterossexuais de se realizarem numa solução equilibrada.
Na mesma linha de pensamento podemos
interpretar o papel que Freud atribui ao conceito de fusão das pulsões. Esta
não designa apenas uma dosagem de proporção variável de sexualidade e
agressividade: a pulsão de morte introduz por si mesma a desfusão.
Se tivermos uma visão de conjunto da
evolução das representações elaboradas por Freud do conflito, ficaremos
impressionados, por um lado, pelo fato de ele procurar sempre reconduzir este a
um dualismo irredutível que, em última análise, só uma oposição quase mítica
entre duas grandes forças contrárias pode fundamentar; por outro lado, pelo
fato de um dos polos do conflito continuar sendo a sexualidade, embora o outro
seja procurado em realidades mutáveis (“ego”, “pulsões do ego”, “pulsões de morte”).
Desde o início da sua obra, mas ainda no Esboço de psicanálise (Abriss
der Psychoanalyse, 1938), Freud insiste na ligação intrínseca que deve
existir entre a sexualidade e o conflito. (...) Freud (...) indicou em diversos
momentos da sua obra as características temporais próprias da sexualidade
humana que fazem com que o “ponto fraco da organização do ego se ache na sua
relação com a função sexual”.
Qualquer aprofundamento da questão do
conflito psíquico não poderia deixar de desembocar, para o psicanalista,
naquilo que para o sujeito humano constitui o conflito nuclear: o complexo de
Édipo. Neste, o conflito, antes de ser conflito defensivo, já está inscrito de
forma pré-subjetiva como conjunção dialética e originária do desejo e da
interdição.
O complexo de Édipo, na medida em que
constitui o dado inelutável e primordial que orienta o campo interpsicológico
da criança, poderia ser encontrado por trás das modalidades mais diversas do
conflito defensivo (por exemplo, na relação do ego com o superego). De modo
mais radical, se fizermos dele uma estrutura em que o sujeito deve encontrar
seu lugar, o conflito aparecerá como já presente, anteriormente ao jogo das
pulsões e das defesas, jogo que constituirá o conflito psíquico próprio a cada
indivíduo.
LAPLANCHE
e PONTALIS. Vocabulário de psicanálise.
São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 89 a 92.
Agora,
penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele
deve representar a luta entre Eros e a Morte, entre o instinto de vida e o
instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta
consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da civilização
pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida. (...)
Por
que nossos parentes, os animais, não apresentam uma luta cultural deste tipo?
(...) No caso das outras espécies animais pode ser que um equilíbrio temporário
tenha sido alcançado entre as influências de seu meio ambiente e os instintos
mutuamente conflitantes dentro delas, havendo ocorrido assim uma cessação de
desenvolvimento. Pode ser que no homem primitivo, um novo acréscimo de libido
tenha provocado um surto renovado de atividade por parte do instinto
destrutivo.
FREUD,
Sigmund. O mal-estar na civilização. In:
Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira.
Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 126 e 127.
CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR
CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR


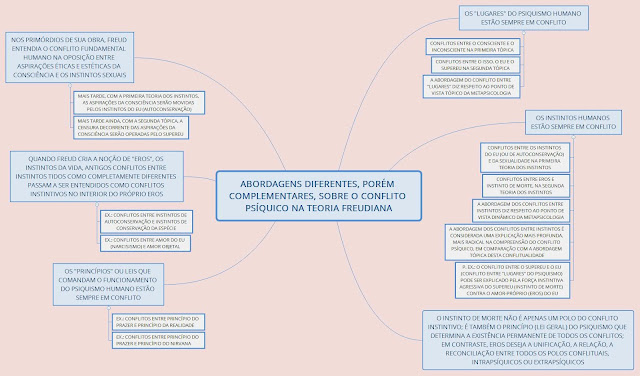
Nenhum comentário:
Postar um comentário