IDEAL DO EU
Ideal
do eu: expressão utilizada por Freud no quadro da sua segunda teoria do
aparelho psíquico. Instância da personalidade resultante da convergência do
narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os pais, com os seus
substitutos e com os ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, o ideal
do ego constitui um modelo a que o sujeito procura conformar-se.
É
difícil delimitar um sentido unívoco da expressão “ideal do ego” na obra de
Freud. As variações deste conceito provêm do fato de que ele está estreitamente
ligado à elaboração progressiva da noção de superego e, mais geralmente, da
segunda teoria do aparelho psíquico. E assim que, em O ego e o id (Das
Ich und das Es, 1923), ideal do ego e superego são apresentados como
sinônimos, enquanto em outros textos a função do ideal é atribuída a uma
instância diferenciada, ou pelo menos a uma subestrutura especial no seio do
superego.
É
em Sobre o narcisismo: uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus,
1914) que aparece a expressão “ideal do ego” para designar uma formação
intrapsíquica relativamente autônoma que serve de referência ao ego para
apreciar as suas realizações efetivas. Sua origem é principalmente narcísica:
“O que ele [o homem] projeta diante de si como seu ideal é o substituto do
narcisismo perdido da sua infância; nesse tempo o seu próprio ideal era ele
mesmo.” Este estado de narcisismo - que Freud compara a um verdadeiro delírio
de grandeza - é abandonado principalmente em razão da crítica que os pais
exercem em relação à criança. Note-se que esta crítica, interiorizada sob a
forma de uma instância psíquica especial, instância de censura e de
auto-observação, é, no conjunto do texto, distinta do ideal do ego: ela “...
observa incessantemente o ego atual e compara-o com o ideal”.
Em
Psicologia de grupo e análise do ego (Massenpsychologie und Ich Analyse,
1921), a função do ideal do ego é colocada em primeiro plano. Freud vê nele uma
formação nitidamente diferenciada do ego, que permite principalmente explicar a
fascinação amorosa, a dependência para com o hipnotizador e a submissão ao
líder, casos em que uma pessoa estranha é colocada pelo sujeito no lugar do seu
ideal do ego.
Esse
processo está na base da constituição do grupo humano. O ideal coletivo retira
a sua eficácia de uma convergência dos “ideais do ego” individuais: “... certos
indivíduos puseram um só e mesmo objeto no lugar do seu ideal do ego, e em
consequência disso identificaram-se uns com os outros no seu ego”-,
inversamente, estes são os depositários, em consequência de identificações com
os pais, com os educadores, etc., de um certo número de ideais coletivos: “Cada
indivíduo faz parte de vários grupos, está ligado por identificação de vários
lados e construiu o seu ideal do ego segundo os mais diversos modelos.”
Em
O ego e o id, em que pela primeira vez figura o termo superego, este é
considerado sinônimo de ideal do ego; é uma só instância, formada por
identificação com os pais correlativamente ao declínio do Édipo, que reúne as
funções de interdição e de ideal. “As relações [do superego] com o ego não se
limitam ao preceito ‘você deve ser assim’ (como o pai); compreendem igualmente
a interdição ‘você não tem o direito de ser assim’ (como o pai), quer dizer, de
fazer tudo o que ele faz; há muitas coisas que são reservadas a ele.”
Em
Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (Neue Folge der
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932), reaparece uma
distinção: o superego surge como uma estrutura englobante que compreende três
funções: “auto-observação, consciência moral e função de ideal”. A distinção
entre estas duas últimas funções é particularmente ilustrada nas diferenças que
Freud procura estabelecer entre sentimento de culpa e sentimento de
inferioridade. Estes dois sentimentos são resultado de uma tensão entre o ego e
o superego, mas o primeiro está relacionado com a consciência moral e o segundo
com o ideal do ego, na medida em que é mais amado do que temido.
A
literatura psicanalítica atesta que o termo superego não apagou o termo ideal
do ego. A maior parte dos autores não utiliza um pelo outro.
Existe
relativo acordo quanto ao que é designado por ideal do ego; em contrapartida,
as concepções diferem quanto à sua relação com o superego e com a consciência
moral. A questão torna-se ainda mais complicada pelo fato de os autores
chamarem de superego, ora, como Freud em Novas conferências, a uma
estrutura de conjunto que compreende diversas subestruturas, ora mais
especificamente à “voz da consciência” na sua função interditora.
Para
Nunberg, por exemplo, ideal do ego e instância interditora são coisas
nitidamente separadas. Distingue-as quanto às motivações induzidas no ego -
“Enquanto o ego obedece ao superego por medo do castigo, submete-se ao ideal do
ego por amor” - e quanto à sua origem (o ideal do ego seria principalmente
formado a partir da imagem dos objetos amados, e o superego a partir da imagem
dos personagens temidos).
Esta
distinção, embora pareça bem fundamentada ao nível descritivo, nem por isso é
menos difícil de ser sustentada de forma rigorosa do ponto de vista
metapsicológico. Por isso muitos autores, na linha da indicação dada por Freud
em O ego e o id (texto acima citado), sublinham a íntima ligação dos
dois aspectos, ou seja, o ideal e a interdição. É assim que D. Lagache fala de
um sistema superego - ideal do ego dentro do qual estabelece uma relação
estrutural: “...o superego corresponde à autoridade e o ideal do ego à forma
como o sujeito deve comportar-se para corresponder à expectativa da autoridade”.
LAPLANCHE e
PONTALIS. Vocabulário de psicanálise. Verbete:
Ideal do Ego ou Ideal do Eu. São Paulo: Martins
Fontes, 2016. p. 222 a 224.
Sigmund
Freud utilizou essa expressão para designar o modelo de referência do eu,
simultaneamente substituto do narcisismo perdido da infância e produto da
identificação com as figuras parentais e seus substitutos sociais. A noção de
ideal do eu é um marco essencial na evolução do pensamento freudiano, desde as
reformulações iniciais da primeira tópica até a definição do supereu. No Brasil
também se usa “ideal do ego”.
A
dimensão de um ideal como modalidade de referência do eu aparece explicitamente
em Freud no texto de 1914 dedicado à introdução do conceito de narcisismo.
Para
que se possa manifestar a idealidade, é preciso, com efeito, que a libido já
não seja unicamente objetal e que se desenhe a perspectiva de uma relação do
sujeito consigo mesmo, tomado como objeto amoroso. Primitivamente, diz Freud, a
criança “era seu próprio ideal”. É a renúncia à onipotência infantil e ao
delírio de grandeza, característicos do narcisismo infantil, que possibilita o
surgimento de um outro ideal. Mas Freud se interroga sobre as modalidades dessa
renúncia: ela é produto da submissão às proibições enunciadas pelas figuras
parentais, instaladas na posição de modelo no momento em que a estrutura
edipiana começa seu declínio. Essa renúncia, portanto, situa-se na vertente do
recalque, processo que tem sua sede no eu e cuja realização exige um critério
de avaliação: “A formação do ideal seria, do lado do eu”, escreve Freud, “a
condição do recalque.”
Em
1917, nas Conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud modifica
sua concepção do ideal do eu. Este converte-se então numa instância do eu que
se encarrega das funções até então atribuídas à “consciência moral” (Gewissen),
que permitia ao eu avaliar suas relações com seu ideal. Além disso, o ideal do
eu participa da formação do sonho, uma vez que é concebido como responsável
pela censura dos sonhos.
Foi
em 1921, em Psicologia das massas e análise do eu, que Freud atribuiu ao
ideal do eu um lugar de primeiro plano. Fez dele uma instância bem distinta do
eu, capaz de “se engajar em conflitos com ele”. A essa instância, recapitulou
Freud, “chamamos ideal do eu, e lhe atribuímos como funções a auto-observação,
a consciência moral, a censura onírica e o exercício da influência essencial no
recalque. Dissemos que ela era herdeira do narcisismo primário, em cujo seio o
eu da criança bastava a si mesmo”. É nesse lugar do ideal do eu que o sujeito
instala o objeto de sua fascinação amorosa, bem como o hipnotizador ou o líder,
assim se transformando o ideal do eu no esteio do principal eixo de
constituição do coletivo como fenômeno, o que Freud já dera a entender no texto
de 1914 sobre o narcisismo.
Observando
essa mudança de estatuto do ideal do eu, transformado em instância, Paul Laurent
Assoun comentou, em 1984, que se tratava de uma operação estranha, já que todas
as características que acabavam de lhe ser atribuídas iriam, pouco tempo
depois, caracterizar uma nova instância, o supereu. Em outras palavras, mal foi
promovido, o ideal do eu já se viu destituído. “Sem dúvida não foi por acaso”,
precisa o autor com humor, “que esse ‘discreto golpe de estado metapsicológico’
teve por cenário o texto constituído pelo ensaio sobre a psicologia das massas,
cheio de ressonâncias políticas.”
De
fato, dois anos depois, em O eu e o isso, assistimos a uma verdadeira
transmissão do poder, à colocação entre parênteses do ideal do eu, como é
indicado pelo título do terceiro capítulo: “O eu e o supereu (ideal do eu)”.
Em
1933, nas Novas conferências introdutórias sobre psicanálise, a mutação
está definitivamente consumada. A trigésima primeira conferência dá ensejo a
uma apresentação pormenorizada da gênese e das funções do supereu, a título das
quais figura o ideal do eu “com que o eu se compara, ao qual ele aspira” e cuja
“reivindicação ele se esforça por satisfazer, através de um aperfeiçoamento
cada vez maior.” “Sem dúvida alguma”, esclarece ainda Freud, “esse ideal do eu
é o precipitado da antiga representação parental, a expressão da admiração pela
perfeição que a criança atribuía aos pais na época”.
Segundo
Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, não se encontra em Freud uma
“distinção conceitual” entre o ideal do eu (Ichideal) e o eu ideal (Idealich).
Todavia, como Freud emprega em diversas ocasiões esses dois termos, alguns
autores os diferenciam. Em seu seminário de 1953-1954, Os escritos técnicos
de Freud, Jacques Lacan sustenta que Freud de fato designa duas funções
diferentes. Lacan inscreve essa distinção em sua tópica: “O Ich Ideal,
o ideal do eu, é o outro como falante, o outro na medida em que mantém comigo
uma relação simbólica, sublimada, a qual, em nosso manejo dinâmico, é ao mesmo
tempo igual e diferente da libido imaginária.” O eu ideal, formação
essencialmente narcísica, constrói-se, segundo Lacan, na dinâmica do estádio do
espelho; decorre, pois, do registro do imaginário e se torna uma “aspiração” ou
um “sonho”. Essa comparação é introduzida por Lacan em 1960, em sua Observação
sobre o relatório de Daniel Lagache, onde ele responde à intervenção feita
por este último no colóquio de Royaumont, em julho de 1958.
ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário
de psicanálise. Verbete: Ideal do Eu. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 362 e
363.
A noção de Ideal do Eu
aparece em Sobre o narcisismo – uma introdução (1914). O sujeito forma-o
projetando diante dele como seu ideal o substituto do narcisismo perdido de sua
infância. O que caracteriza o Ideal do Eu é, portanto, a abertura que ele
oferece ao narcisismo para uma realização possível num tempo futuro. O Ideal do
Eu vai refundir outras noções anteriores, como a consciência moral, a censura,
a autoestima, e permitir uma reflexão original sobre a formação das massas e
sua relação com o líder (Psicologia das massas e análise do eu - 1921).
O Ideal do Eu e o Supereu formam com o Eu ideal um
agrupamento de instâncias que convém diferenciar claramente, embora Freud tenha
confundido algumas vezes as duas primeiras. O termo Supereu só interveio mais
tarde, em O ego e o id (1923), e permitiu distinguir o aspecto normativo
(Supereu) do aspecto de motivação com vistas a uma finalidade (Ideal do Eu).
Mas, no início, esses dois aspectos são confundidos no Ideal do Eu, o qual
tampouco é diferenciado do Eu ideal. Essa confusão reaparecerá nas Novas
conferências... (1933), onde o Ideal do Eu se converte numa função do
Supereu.
O Ideal do Eu forma-se quando a criança, por causa da
influência crítica dos pais, dos educadores e de outras pessoas do meio
ambiente, é obrigada a renunciar ao seu narcisismo infantil. Portanto, essa
renúncia é viabilizada pela formação desse substituto, o Ideal do Eu, que deixa
aberta a possibilidade de, num tempo futuro, ocorrer a reunião do Eu e do
ideal. Essa formação do Ideal do Eu, confundida aqui com o Supereu, faz-se por
identificação com os pais ou, mais precisamente, com o Supereu dos pais. Em O
Ego e o Id (1923), Freud sublinhará que o Superego aparece por
identificação com o modelo paterno (...).
Na medida em que o Ideal do Eu é confundido com o Supereu,
ele inclui a consciência moral, a qual compara permanentemente o Eu atual e o
Ideal do Eu. Da mesma forma, a censura do sonho ou o recalque ligam-se ao Ideal
do Eu. Com efeito, o Ideal do Eu compreende todas as restrições às quais o Eu
deve submeter-se de maneira a concordar com essa imagem destacada do seu
próprio narcisismo e projetada adiante dele. Mas o Ideal do Eu (...) pode
também produzir, quando alguma coisa no Eu coincide com o Ideal do Eu, uma
sensação de triunfo, onde é reencontrada a autoestima.
O Ideal do Eu pode, por último, ver-se impedido de exercer a
sua função de incitação para o Eu quando é substituído pela idealização do
objeto. “Nas múltiplas formas de escolha amorosa”, escreve Freud, “salta aos
olhos que o objeto serve para substituir um ideal não alcançado do próprio Eu”
(Psicologia das massas e análise do eu). (...)
Com o Ideal do Eu, Freud vai enriquecer consideravelmente a
compreensão da psicologia do coletivo. Partindo da análise da relação entre o
hipnotizador e o hipnotizado, veio a definir a formação da multidão como “uma
soma de indivíduos que têm um só e mesmo objeto no lugar do seu Ideal do Eu e
que estão, por consequência, no Eu de cada um deles, identificados uns com os
outros” (Psicologia das massas e análise do eu). Todos são, pois,
coletivamente suscetíveis de entrar num estado de sujeição em face daquele que
se oferecer para representar esse Ideal do Eu que se tornou coletivo. As
consequências são conhecidas: “A crítica exercida por esta instância [o Ideal
do Eu] emudece; tudo o que o objeto faz e exige é bom e irrepreensível. A
consciência moral não se aplica a nada do que sucede a favor do objeto; na
cegueira do amor, o sujeito vira criminoso sem remorsos. Toda a situação se
deixa resumir integralmente numa fórmula: o objeto é posto lugar do Ideal do Eu”
(Psicologia das massas e análise do eu).
MIJOLLA-MELLOR, Sophie de. Verbete: Ideal do Eu. In.: MIJOLLA, Alain (Org.) Dicionário Internacional da Psicanálise. Vol. A-L. Rio de Janeiro: Imago, 2005. p. 905 e 906.




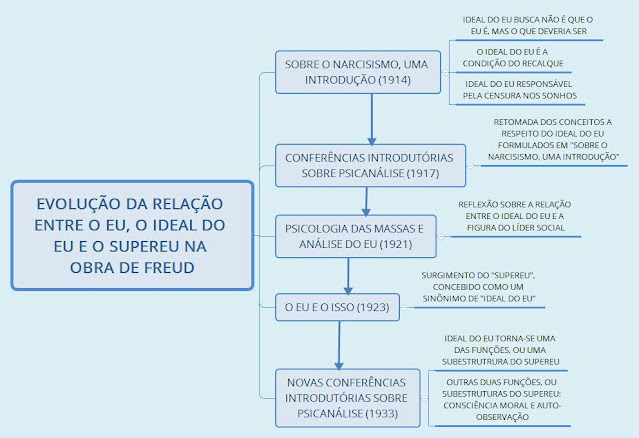






Nenhum comentário:
Postar um comentário